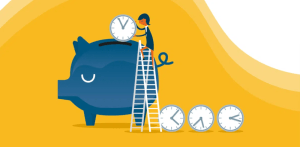*Lucas Tonaco
_____________________
No Brasil, a transição de uma sociedade rural e escravocrata para uma urbana e industrial teve início durante o Segundo Reinado (1840-1889) e se intensificou com a Proclamação da República em 1889. O antagonismo ou a dualidade entre “atraso e modernidade”, inclusive destacado em análises de três intérpretes do Brasil, tratam da análise também desse determinado período em especial, como bem coloca a hegemonia do patriarcado rural que era o impeditivo da formação de uma burguesia urbana que propiciasse uma cultura liberal, o que para Sérgio Buarque de Hollanda, formava uma espécie de transição.
Um fenômeno político que até hoje ecoa, são as derivações dessa a transição de uma sociedade rural e escravocrata para uma urbana e industrial, é o municipalismo e dentre isso também o coronelismo, para José Murilo de Carvalho, no prefácio da edição de Coronelismo, enxada e voto de Victor Nunes Leal “o coronelismo, nessa visão, não é simplesmente um fenômeno da política local, não é mandonismo. Tem a ver com a conexão entre município, Estado e União, entre coronéis, governadores e presidente, num jogo de coerção e cooptação exercido nacionalmente”, portanto, como na tese de Victor Nunes Leal, O município e o regime representativo no Brasil: contribuição ao estudo do coronelismo e mesmo após as dissoluções agrárias e o urbano como dilema fundamental na modernidade do Brasil.
Para Caio Prado Júnior, em sua obra seminal Formação do Brasil Contemporâneo (1942), oferece uma análise profunda da evolução socioeconômica do Brasil desde os primórdios da colonização até o período contemporâneo, destacando as estruturas fundamentais que moldaram a sociedade brasileira, portanto o dualismo entre “atraso e modernidade” mais uma vez colocado como uma questão nacional. A ideia de “progresso”, de “avanço”, adotadas um quanto questionadas como uma espécie de evolucionismo e hoje nos tempos atuais deve ser questionada sobre a leitura do perspectivismo, afinal, esse “progresso” na verdade nada mais é do que uma ideologia e tem seus vícios de etnocentrismos também também, moldado principalmente, especialmente nesse período por uma visão eurocêntrica, especialmente de capitalismo. Outras culturas, etnias e demais cosmovisões abarcam outras interpretações desse “progresso” sendo na verdade acumulação, exploração inócua, aceleração de problemas ambientais como aceleração das mudanças climáticas e muitos outros danos. A visão do materialismo histórico de Marx aqui também é necessária: a criação das cidades no Brasil promoveu segregações sociais desde de sua origem tão quão desigualdades, explorações, violência segmentada, racismos diversos (inclusive o ambiental) e até mesmo necropolíticas – aqui colocado epistêmico de Achille Mbembe – na construção dos próprios espaços urbanos, pois inclusive urbanitários morreram e também como populações negros, mulheres e crianças foram vítmas da conurbação destes processos da formação das cidades.
Se tratando de uma perspectiva sobre sujeitos na historiografia, entre as figuras centrais nesse processo entre a “transição moderna”, de formação da infraestrutura e do capitalismo urbano, destaca-se Irineu Evangelista de Souza, o Visconde de Mauá, nascido em 1813 na cidade de Arroio Grande, Rio Grande do Sul, com forte tendência a ideias do liberalismo europeu, em especial o inglês, e também cuja influência do pensamento da Maçonaria, também especialmente a inglesa, foi um dos maiores incentivadores do desenvolvimento industrial no Brasil e o maior financista do Império. Entre suas inúmeras iniciativas, Mauá fundou a Companhia de Iluminação a Gás do Rio de Janeiro em 1851 e a Companhia de Bondes, que contribuíram significativamente para a modernização das cidades brasileiras. A formação do abastecimento de água para a cidade do Rio de Janeiro também teve a participação de Mauá. Mesmo assim, enfrentou oposições das elites agrárias locais.
Mais uma vez, a questão das “elites do atraso” – para parafrasear a obra de Jessé Souza – é colocada. Mesmo desenvolvimento urbano sendo necessário como pressuposto no desenvolvimento industrial na ideologia da “modernização do Brasil”, haveria oposição a estes processo ou pelo menos a um controle minimamente mais justo socialmente do processo enquanto mimetização de ideias europeias até mesmo se tratando de abolicionismo e a formação de uma classe trabalhadora urbana – de Machado de Assis até Roberto Schwarz, a crítica sobre o projeto de “modernidade do Brasil”, é extensa, “Um dos princípios da Economia Política é o trabalho livre. Ora, no Brasil domina o fato “impolítico e abominável” da escravidão” (Schwarz, 2000).
Uma observação inicial sobre a descrição do surgimento da atividade urbanitária do Brasil, a primeira é que a atividade existia logo na existência das primeiras cidades antes mesmo do período dito como Segundo Reinado (1840-1889), qual descreve-se como o início da atividade urbana de maior escala ocupacional, mais intensificada do, como o projeto “História do Controle e Uso da Água em Ouro Preto dos Séculos XVIII e XIX”, realizado pelo professor Alberto de Freitas Castro Fonseca, como também durante o próprio período do Segundo Reino, em Salvador, “o primeiro reservatório elevado da cidade, e o primeiro em alvenaria do Brasil, construído em 1856 no local conhecido como Cruz do Cosme”, conforme própria descrição da EMBASA (Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A) sobre a história do saneamento baiano.
O imperador Dom Pedro II também teve um papel relevante, incentivando diversos avanços tecnológicos e sociais, apesar das profundas contradições políticas, econômicas e ideológicas. Em 1879, inaugurou um pequeno sistema de iluminação elétrica pública na Estação da Corte da Estrada de Ferro Central do Brasil, e, em 1883, o primeiro serviço público de iluminação elétrica na cidade de Campos, Rio de Janeiro. Nesse mesmo ano, a primeira usina hidrelétrica do país entrou em operação em Ribeirão do Inferno, Minas Gerais. Em 1889, o último ano do Segundo Reinado, a Companhia Mineira de Eletricidade construiu a usina hidrelétrica Marmelos Zero em Juiz de Fora, um marco no setor elétrico brasileiro. Com a inauguração da linha de bondes elétricos Flamengo-Jardim Botânico pela Companhia FerroCarril em 1892 e a entrada da companhia canadense The São Paulo Railway, Light and Power Company no mercado brasileiro em 1899, a demanda por energia elétrica cresceu significativamente. Essa empresa, que se instalou no Rio de Janeiro em 1905 como The Rio de Janeiro Tramway, Light and Power Company, oferecia serviços de iluminação e bondes elétricos, marcando a expansão do setor elétrico nas grandes cidades brasileiras. A industrialização e a urbanização também trouxeram mudanças para a classe trabalhadora de maneira profunda. Inspirados pela Revolução Industrial na Europa, os trabalhadores brasileiros começaram a se organizar para melhorar suas condições de vida. No final do século XIX e início do século XX, movimentos grevistas e a formação de associações de classe se tornaram comuns, pois emanam os absurdos da exploração capitalista. Imigrantes europeus, que constituíam uma parte significativa da classe operária, principalmente industrial, introduziram ideias socialistas e foram fundamentais na criação das primeiras associações de classe. A primeira lei sindical brasileira, o Decreto 979 de 1903, permitiu aos profissionais da agricultura e indústrias rurais a organização de sindicatos, o que foi fundamental para avanço se tratando da luta por direitos. Em 1906, o Congresso Operário Brasileiro aprovou a constituição da Confederação Operária Brasileira (COB), muito inspirada pelo anarco-sindicalismo europeu, uma das principais bandeiras do movimento operário era a diminuição da jornada de trabalho para oito horas diárias sem redução de salários, e outras várias dezenas de reivindicações como aumento salarial e regulamentação do trabalho feminino e infantil.
Durante os anos 1920, o movimento sindical sofreu repressão profunda no Brasil, mas o que não fez a desistir e continuou a lutar por melhorias nas condições de trabalho. Em 1922, o Partido Comunista do Brasil (PCB) foi fundado, influenciando o movimento operário. Em 1923, a Lei Eloy Chaves criou o primeiro fundo de pensão do país para os ferroviários, o que era uma forma previdenciária rara no país para a classe trabalhadora, e em 1925 foi aprovada a primeira lei de férias para todos os trabalhadores do setor privado.
Como personificação do simbolismo da militância sindical, Hermogênio da Silva Fernandes, um eletricitário que trabalhou na Light e foi um dos fundadores do PCB (Partido Comunista Brasileiro). Hermogênio participou ativamente de greves e foi preso várias vezes por sua militância – destaca-se aqui o encarceramento e a figura de opressão dos Estados como instrumentos de elites econômicas agrárias e industriais na perseguição de trabalhadores, deixando mais uma vez a evidencia do controle dos corpos e da biopolítica em táticas repressoras de silenciamentos e pagamentos de expressões de indivíduos. Em 1933, após ser demitido da Light, tornou-se ferroviário da Rede Mineira de Viação e continuou a liderar greves, mesmo enfrentando constantes perseguições. A industrialização não só modernizou as cidades, mas também deu origem a um movimento operário que lutou arduamente por melhores condições de trabalho e direitos laborais, influenciando profundamente a história social e econômica do Brasil.Após 1930, as massas populares foram parcialmente precariamente integradas ao processo político nacional com expressão institucionalizada, e com Getúlio Vargas no poder, houve uma transformação na postura do Estado em relação ao movimento dos trabalhadores. Em 26 de novembro de 1930, Vargas criou o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, e em 1931, o Decreto nº 19.770 estabeleceu a unicidade sindical, reconhecendo apenas sindicatos que reunissem dois terços de uma categoria específica, o que mudou a composição da classe operária, que passou a ser formada quase inteiramente por trabalhadores nacionais.
A polêmica e violenta Constituição de 1934, promulgada em 16 de julho, tentou o advento de modernização do Brasil ao introduzir direitos populares como a exploração de minas e fontes de energia hidrelétrica com restrições, a instituição do salário mínimo, o voto secreto e universal para maiores de 18 anos, incluindo as mulheres, e também a criação de institutos previdenciários. No entanto, a lei sindical continuava a limitar a pluralidade ao exigir a representação de um terço da categoria para o funcionamento legal dos sindicatos. Entre 1930 e 1935, houve uma intensa mobilização das classes trabalhadoras urbanas, e mesmo com uma legislação trabalhista, os setores mais aguerridos da classe operária se recusaram a se juntar aos sindicatos oficiais, reforçando a multiplicidade organizacional e a crítica das origens de institucionalidade. Em 1935, a Lei de Segurança Nacional transformou em crime a luta de classes e proibiu greves, exceto por motivos pertinentes às condições de trabalho, por óbvio, essa lei foi um instrumento repressivo contra o movimento operário e sindical por 50 anos derivado de circunstâncias históricas posteriores. Durante o Estado Novo, instaurado por Vargas em 1937, houve uma concentração de poderes e restrições à oposição. A Justiça do Trabalho foi organizada, e a oficialização definitiva do sindicalismo ocorreu com o Decreto-Lei 1.402 em 1939, que restabeleceu a unicidade sindical e instituiu o imposto sindical.
Em 1943, a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) sistematizou toda a legislação trabalhista. Os urbanitários, trabalhadores dos setores de energia elétrica e gás, enfrentaram desafios específicos devido à importância estratégica de seus serviços, especialmente se tratando de sua vinculação com a emergência de setores econômicos que agora emergiam novas formas de acumulação e a importância do setor urbanitário na manutenção das crescentes cidades. Durante o governo de Eurico Gaspar Dutra, muitos sindicatos foram alvos de intervenções sob o pretexto de serem dominados por comunistas – como se isso fosse pretexto para fundamentar cassadas, esquecendo o pluralismo do pensamento político necessário. O Sindicato dos Eletricitários e Gasistas do Rio de Janeiro, foi um que sofreu intervenção, e seu presidente eleito, Domingos Ferreira de Andrade, foi cassado.
Mesmo com égide calcada no Estado e ainda que fosse fundamental para estruturação da organização social nas cidades, os trabalhadores urbanitários no Brasil foram também inseridos em um contexto de luta de classes ao qual o capital privado buscava o controle da maior exploração possível de mais-valia e o controle de greves e de atividades de mobilização. Mesmo após um forte período keynesiano que desenvolveu mercados mundo a fora, o que se viu nesse período foi forte imposição de Estado e “mercado(s) privados” de forma imensamente autoritária contra os trabalhadores urbanitários – como também as outras categorias, e citando Leda Paulani, professora da Faculdade de Economia e Administração (FEA) da USP, em entrevista à série Horizontes Contemporâneos, é importante a observação do filósofo Karl Polanyi – inclusive bastante citado em antropologia econômica – que afirma que uma sociedade guiada só pela ideia de que os mercados se autorregulam é uma sociedade fadada à falência, com o mercado. A centralidade estratégica econômica de setores fundamentais como os urbanitários têm enfrentando problemas sérios entre antagonismo de controle privado frente a questões sociais e nacionais no Brasil, como externado acima.
* Trecho do livro em edição – Urbanitários(as) do Brasil: Perspectivas dos setores de água, energia, gás e meio-ambiente
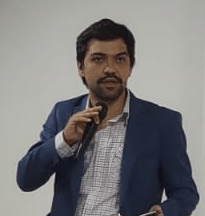 * Lucas Tonaco (autor) – secretário de Comunicação da FNU, dirigente do Sindágua-MG, acadêmico em Antropologia Social e Ciências Humanas da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
* Lucas Tonaco (autor) – secretário de Comunicação da FNU, dirigente do Sindágua-MG, acadêmico em Antropologia Social e Ciências Humanas da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)